Crédito da imagem: Commons.
*Este ensaio foi escrito pelo Prof. Dr. José Micaelson Lacerda Morais. As ideias expressas aqui são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, as opiniões ou a linha editorial do Laboratório de Estudos Aplicados em Desenvolvimento Rural (LEADR).
A formação histórica da economia política clássica
José Micaelson Lacerda Morais1
Universidade Regional do Cariri, Crato/CE
Antes da emergência da economia política clássica, as categorias hoje naturalizadas como “propriedade” e “domínio” possuíam significados profundamente distintos dos atuais, associados à propriedade privada individual e absoluta. Como demonstra o historiador do direito, Grossi (2006), o domínio medieval não designava um direito subjetivo pleno e exclusivo sobre uma coisa, mas uma relação jurídico-institucional complexa, corporificada em uma pluralidade de poderes, obrigações e vínculos pessoais que incidiam simultaneamente sobre a terra. Como observa o referido autor: “[…] fique bem claro que essa propriedade [feudal] não é, porém, uma realidade monolítica, a sua unidade é ocasional e precária, e cada fração leva em si a tensão a tornar-se autônoma e a força para realizar o desmembramento […] (Grossi, 2006, p. 66). Dessa perspectiva, a terra integrava uma ordem político-social, servindo como fundamento material da subsistência, critério de pertencimento e base territorial de autoridade. Assim, o que estava em disputa não era primordialmente seu uso produtivo, mas quem exercia poder sobre ela, sob que títulos e com quais faculdades, como a de exigir trabalho, tributos ou fidelidade. O excedente social circulava, portanto, por meio da institucionalização das obrigações pessoais vinculadas ao controle territorial, e não mediado por trocas mercantis. Apenas posteriormente, já no contexto da racionalização moderna do direito, essas formas de mando seriam convertidas na linguagem da propriedade privada individual, embora descoladas de sua gênese histórica e apresentadas como dados naturais da organização econômica.
Essa perspectiva evidencia que “domínio” e “propriedade” eram categorias centrais da ordenação social europeia pré-capitalista. É também o que sustenta o historiador medievalista, Bloch (1982, p. 314), ao caracterizar o feudalismo como um sistema de domínios que estruturava uma arquitetura espacial de dependências pessoais e obrigações servis, articulando autoridade, proteção e subordinação. A dependência material era juridicamente codificada como dever social, e controlar a terra significava exercer jurisdição, com prerrogativas de fazer justiça, arrecadar tributos, mobilizar forças armadas, regular cultos e definir obrigações de trabalho. Em tal regime, domínio territorial e soberania se sobrepunham, quase sem distinção.
Na prática, essa forma de ordenação configurava um mosaico jurídico de direitos desdobrados, e não uma propriedade plena concentrada em um único titular. A terra não tinha “dono” no sentido moderno, mas permanecia inscrita em vínculos recíprocos que conectavam soberanos, senhores, vassalos, comunidades camponesas (categoria social ampla, distinta da condição jurídica do servo) e instituições eclesiásticas. Tratava-se de um verdadeiro “sistema de fidelidades”, nos termos de Bloch (1982), no qual o laço com a terra era simultaneamente vínculo com pessoas. A pluralidade de poderes refletia, inclusive, a reinterpretação medieval das faculdades clássicas do dominium (direito romano de propriedade) de usar, fruir e dispor. Todavia, tais faculdades eram distribuídas conforme posições hierárquicas. Desse modo, o servo podia deter o uso da terra sem direito de alienação; um senhor eclesiástico podia apropriar-se dos frutos sem autoridade militar; enquanto o poder de exigir serviços, tributos e prestações pessoais permanecia como atributo do domínio senhorial ou soberano.
Consequentemente, o feudalismo não conheceu um “mercado de terras”. A terra não circulava como mercadoria, mas vinculava os camponeses vinculados ao senhorio, conformando uma ordem baseada na fixação do trabalho ao território. Em outros termos, não se contratavam trabalhadores para explorar a terra, e, sim, atribuía-se terra para capturar força de trabalho. Portanto, a terra funcionava como meio de dominação, não de investimento. Isso condicionava diretamente a natureza e a apropriação do excedente, que derivava primariamente da exploração direta do trabalho camponês (servo), legal e socialmente preso à terra. Essa legitimidade era reforçada por fundamentos religiosos que apresentavam a hierarquia social como uma “ordem natural” querida por Deus. A economia se movia pela obrigação, não pelo preço, sendo sustentada pela submissão pessoal, não pelo contrato.
Uma leitura mais fina da crítica marxiana permite compreender que, no feudalismo, as relações pessoais não apenas desempenhavam o papel de relações econômicas, mas constituíam uma forma histórica específica de articulação entre dependência pessoal e apropriação material. Marx observa que aquilo que, retrospectivamente, costuma ser percebido como um regime de “relações puramente pessoais” é, na verdade, uma ilusão: tais relações possuíam um conteúdo econômico objetivo, ainda que expresso sob a forma de obrigações pessoais. Como ele explicita nos Grundrisse, vínculos originalmente militares ou de fidelidade pessoal “assumiram um caráter coisal dentro de sua esfera”, ao cristalizarem-se em relações jurídico-proprietárias (Marx, 2011, p. 169). Ele exemplifica esse aspecto com “o desenvolvimento das relações de propriedade territorial a partir de relações de subordinação puramente militares”. Assim, uma mesma relação de subordinação integrava simultaneamente a vinculação do servo ao senhor e a vinculação à terra, de modo que o vínculo pessoal funcionava como mediação subjetiva de um processo material de extração de excedente (fosse sob a forma de corveias, prestações em espécie, taxas de banalidades ou dízimos). Dessa maneira, a aparência “pessoal” dessas relações, longe de negar seu caráter econômico, era precisamente a forma histórica por meio da qual este se realizava.
A modernidade europeia, entendida como processo histórico que articulou o declínio da ordem feudal, o surgimento do Estado territorial soberano e o avanço das relações mercantis, inaugurou uma transformação decisiva na forma de conceber a propriedade. Nesse período, marcado pela secularização institucional e pela ascensão do indivíduo como sujeito jurídico, desencadeia-se um processo de racionalização jurídica da propriedade, no qual esta deixa de ser legitimada como dádiva divina ou privilégio estamental e passa a constituir-se como categoria abstrata do direito civil. Tal deslocamento já se insinua, em Grotius (2004), quando, em O direito da guerra e da paz, de 1625, ao identificar as regras da razão com as leis naturais, sustenta que a passagem da propriedade comum para a propriedade privada não ocorreu por um mandamento divino, mas foi resultado de pactos humanos (tácitos ou expressos) instituídos para organizar a vida em sociedade: “[…] Assim é que a propriedade, tal como é vista no momento atual, foi introduzida pela vontade humana. A partir do momento em que foi introduzida, porém, é o próprio direito natural que me diz que é um crime para mim me apoderar, contra tua vontade, daquilo que é o objeto de tua propriedade […]” (Grotius, 2004, p. 80).
Por sua vez, Pufendorf (2007), em sua obra Os deveres do homem e do cidadão, de 1673, aprofunda essa inflexão ao propor que a propriedade é criação estritamente civil, fundada no consentimento recíproco entre indivíduos livres, “[…] pois, é por meio dos pactos que os homens instituem os statuses, aos quais, estes últimos se vinculam […]” (Padilha, 2017, p. 8); dando, assim, “[…] prioridade ao livre arbítrio do homem ao obedecer às regras descobertas por ele mesmo […]” (Andrade, 2023, p. 19). Em síntese, opera-se uma mudança de fundo do sagrado ao contratual, do costume à lei positiva, das hierarquias pessoais à figura do indivíduo abstrato como titular de direitos, generalizável e formalmente igual diante da lei.
Se Grotius inaugura a secularização do direito de propriedade e Pufendorf transforma a propriedade em instituição civil derivada de um pacto, coube a Locke, estabelecer uma formulação decisiva, ao introduzir a propriedade como direito natural anterior ao Estado, fundamentada no trabalho e articulada à expulsão dos comuns e ao “princípio do melhoramento para fins de troca lucrativa”. Assim, a formulação do jusnaturalismo moderno encontra um desdobramento decisivo neste autor. Conforme nos revela Wood (2001, p. 92), “[…] nenhum outro trabalho é mais emblemático do que no capitalismo agrário em ascensão. No Segundo Tratado (1998), publicado em 1689, Locke estabelece que a propriedade é fundada em um princípio moral universal: “[…] é perfeitamente claro que Deus, como diz o rei Davi (Sl 115, 61), deu a terra aos filhos dos homens, deu-a para a humanidade em comum […]” (Locke, 1998, p. 405-406). Então, acrescenta: “[…] qualquer coisa que ele [o homem] então retire do estado com que a natureza o proveu e deixou, mistura-a ele com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a em sua propriedade […] exclui do direito comum os demais homens […]” (Lock, 1998, p. 409). Desse ponto de vista, o direito de propriedade é anterior e superior ao Estado, cuja função se reduz a protegê-lo e, o proprietário moderno, passa a ser legitimado por seu mérito individual (trabalho), que também lhe confere o poder de excluir terceiros do uso da terra. A relação de dominação sobre o território passa a aparecer, então, como relação jurídica neutra e universalizável.
Nesse ponto é oportuno abrir um parêntese sobre a discussão da propriedade que será desenvolvida quando se abordar a economia política clássica. Inicialmente, cabe observar que a universalidade normativa acima inferida se assenta em condições materiais bastante específicas. Refere-se a Inglaterra dos séculos XVI a XVIII, marcada pelo cercamento dos campos, pela expulsão dos produtores diretos e pela constituição de um mercado de trabalho compulsório (processos que Marx identificou como momento inaugural da acumulação capitalista). Como bem sintetiza Wood (2001, p. 96-97):
“Que argumento poderia ser melhor que o de Locke para respaldar o grande proprietário que almejava extinguir os direitos consuetudinários dos plebeus, expulsá-los das terras comunais e transformar a terra comum numa propriedade privada exclusiva, por meio do cercamento? Que argumento poderia ser melhor do que afirmar que o cercamento, a exclusão e o melhoramento aumentavam a riqueza da comunidade, e mais faziam contribuir para o ‘quinhão comum’ do que subtrair algo dele? E, de fato, já no século XVII houve exemplos de decisões judiciais, em conflitos em torno da terra, nas quais os juízes invocaram princípios muito semelhantes aos enunciados por Locke, para conceder precedência à propriedade exclusiva em detrimento dos direitos comunais e consuetudinários. No século XVIII, quando os cercamentos tiveram uma rápida aceleração, com o envolvimento ativo do Parlamento, as alegações de melhoramento eram sistematicamente citadas como base do direito à propriedade e fundamento para a extinção dos direitos tradicionais.”
Isso posto, a filosofia liberal, ao naturalizar como direito individual absoluto uma apropriação historicamente violenta, legitimou retroativamente a separação entre produtores diretos e meios de produção e subsistência, sendo a terra, por óbvio, a precursora de tal separação. Sob a igualdade formal dos sujeitos de direito, reproduziu-se, portanto, uma desigualdade material estruturante, na qual a liberdade do proprietário se afirmava sobre a dependência dos despossuídos. Ainda, de acordo com Wood (2001, p. 77-78):
“Essa é, portanto, a diferença básica entre todas as sociedades pré-capitalistas e o capitalismo. Ela nada tem a ver com o fato de a produção ser urbana ou rural, e tem tudo a ver com as relações particulares de propriedade entre produtores e apropriadores, seja na indústria, seja na agricultura. Somente no capitalismo é que o modo de apropriação dominante baseia-se na desapropriação dos produtores diretos legalmente livres, cujo trabalho excedente é apropriado por meios puramente “econômicos”. Como os produtores diretos, no capitalismo plenamente desenvolvido, são desprovidos de propriedade, e como seu único acesso aos meios de produção, aos requisitos de sua própria reprodução e até aos meios de seu próprio trabalho é a venda de sua capacidade de trabalho em troca de um salário, os capitalistas podem apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores sem uma coação direta.”
Fechado esse parêntese, já se pode concluir o processo de transformação da natureza da propriedade. No século XVIII, o liberalismo político levou ao auge o processo de naturalização da propriedade privada, convertendo-a em fundamento jurídico, moral e econômico da ordem civil moderna. Em Blackstone, talvez o mais influente jurista inglês do período, a propriedade aparece como direito absoluto e eixo organizador da sociedade civil. Em seus Commentaries on the Laws of England, publicados entre 1765 e 1769, especificadamente em seu volume 2, de 1766, ele afirma (em tradução livre), que “não há nada que impressione tanto a imaginação e engaje tanto os afetos da humanidade, quanto o direito de propriedade; ou aquele domínio único e despótico que um homem reivindica e exerce sobre as coisas externas do mundo, em total exclusão do direito de qualquer outro indivíduo no universo […].” (Blackstone, 2005, p. 2). Ecoando em parte a tradição Lockeana, Blackstone sustenta que cabe ao Estado proteger e fazer valer os direitos absolutos dos indivíduos (vida, liberdade e propriedade), concedidos pelas “leis imutáveis da natureza”. Em suas palavras (tradução livre): “[…] o primeiro e primordial fim das leis humanas é manter e regular esses direitos absolutos dos indivíduos […]” (Blackstone, 1876, p.96). Desse modo, a propriedade privada absoluta foi elevada a condição estruturante da ordem social: não apenas um direito entre outros, mas o alicerce da segurança individual, da estabilidade civil e da própria ideia moderna de convivência política.
Nesse mesmo horizonte intelectual, em uma formulação distinta, mas convergente com a de Blackstone, Montesquieu (1996), cuja obra O espírito das leis, publicada aproximadamente duas décadas antes dos Commentaries, concebeu uma perspectiva original sobre a articulação entre propriedade, liberdade e comércio. Enquanto Blackstone sistematizou juridicamente a propriedade como direito absoluto na common law inglesa, Montesquieu operou, como filósofo político e analista dos costumes, atribuindo ao comércio um papel moral e institucional de grande alcance. Sobretudo no Livro XX (“Das leis em suas relações com o comércio considerado em sua natureza e suas distinções”), ele delineou a ideia de que o comércio possui um efeito moderador sobre os costumes sociais. Ali, Montesquieu afirma que o “efeito natural do comércio é levar à paz” e que “o comércio cura os preconceitos destrutivos”. Daí, decorre seu entendimento de como a associação entre instituições políticas moderadas e relações econômicas regulares molda os costumes, a ordem civil e a própria ideia de liberdade. Embora ele não elabore uma teoria sistemática da propriedade, no sentido jusnaturalista, suas análises permitem compreender que a expansão do comércio produzia, na linguagem atual, um verdadeiro ethos comercial, baseado em hábitos de confiança, previsibilidade, cálculo e autocontenção moral gerados pela regularidade das trocas.
A partir dessa leitura, pode-se interpretar que o pensamento de Montesquieu contribuiu para consolidar a propriedade privada como uma instituição tripla. Primeiro, como categoria jurídica, pois pressupõe indivíduos titulares de direitos resguardados por um Estado moderado. Segundo, como categoria econômica, ao situá-la no interior de uma ordem de trocas mercantis. Terceiro, como categoria moral, ao vinculá-la à independência e aos hábitos civilizados que se formam nas relações comerciais. Desse modo, ainda que por caminhos distintos dos de Blackstone, Montesquieu participa da consolidação da propriedade como fundamento da liberdade e da própria experiência civil moderna, naturalizando um arranjo histórico específico sob a aparência de um princípio universal da vida social.
Essa consolidação conceitual jurídica, econômica e moral, não se limitou ao plano das ideias, mas forneceu a matriz normativa e institucional que sustentou a transformação material da propriedade. Assim, a construção jurídico-filosófica-prática que emergiu nesse período configurou as condições internas para o desenvolvimento do capitalismo agrário inglês. Externamente, esse processo articulou-se estreitamente às práticas coloniais. Mas, a que custo social? Grosso modo, ele implicou, no plano interno, formas de expropriação e despossessão jurídica, econômica e social, enquanto no plano externo se associou à colonização e à escravização.
Por que, então, pensadores do calibre dos citados anteriormente apagaram sistematicamente a violência desse processo? Em primeiro lugar, muitos pertenciam às camadas sociais diretamente beneficiadas pela consolidação da propriedade privada, tais como juristas, magistrados, parlamentares, conselheiros e intelectuais ligados às redes mercantis emergentes. Assim, suas teorias não expressavam apenas uma posição normativa, mas também um interesse material. Em segundo lugar, a função legitimadora do saber jurídico e político, ao transformar fatos históricos em princípios universais, operou por meio de categorias abstratas (indivíduo, contrato, trabalho) que eliminavam da análise as relações concretas de poder e coerção. Em terceiro lugar, a narrativa teleológica do progresso, típica do Iluminismo e da filosofia liberal, tendia a interpretar conflitos e violências como custos transitórios necessários ao avanço da civilização, favorecendo uma leitura harmonizadora das rupturas sociais. Por fim, a centralidade da perspectiva proprietária no direito impôs uma visão parcial que invisibilizava práticas camponesas, resistências populares e dinâmicas de despossessão, convertendo um processo histórico específico em uma ordem “racional” e “necessária”. Em última instância, essa transição não representou apenas um deslocamento teórico, mas a própria constituição institucional de um novo modo de apropriação dos meios materiais de existência e reprodução social. Reinscrever essa violência constitutiva torna-se fundamental para compreender a origem do capitalismo, os fundamentos da economia política clássica e seus argumentos teóricos em defesa desse modo de produção, bem como, ainda, a permanência dos padrões estruturais das desigualdades contemporâneas.
Dado esse processo de naturalização jurídica e moral da propriedade, quando a economia política se institui como disciplina científica, com Smith e Ricardo, ela já encontra a propriedade fundiária inteiramente positivada. Isto é, estabilizada como instituição legalmente garantida e moralmente legitimada, de modo funcional à crescente mercantilização da vida social. Assim, para a economia política, a terra não aparece como base ecológica da existência ou como herança coletiva, mas como ativo privado; e a renda fundiária passa a ser tratada como remuneração pelo uso desse ativo. Nesse quadro, o proprietário surge como figura necessária à racionalidade econômica, sem que se indague a respeito de sua origem histórica ou legitimidade social. Essa naturalização possui efeitos analíticos decisivos. Primeiro, continua a ocultar a historicidade da apropriação, pois a propriedade ingressa na teoria como “dado institucional”, abstraindo da terra suas dimensões simbólicas, políticas e comunitárias. Segundo, desloca a crítica da extração do excedente, posto que a renda, em vez de analisada como relação de dominação, torna-se fenômeno neutro de mercado, simples componente da distribuição funcional (ou seja, a terra passa a ser considerada como um recurso econômico dotado de rendimento próprio). Terceiro, obscurece que a renda expressa um monopólio socialmente produzido sobre os meios de produção e de subsistência, isto é, uma forma de poder. Como bem assinala Hirschman (2002, p. 120), em As paixões e os interesses, “o principal impacto de A Riqueza das Nações era o de estabelecer uma poderosa justificativa econômica para a busca desenfreada do interesse próprio individual […]”.
Nesse ponto, é útil recuperar o argumento de Hirschman (2002), que desenvolve uma interpretação original da ascensão do capitalismo ao mostrar como, entre os séculos XVII e XVIII, a ideia de “interesse próprio” foi ressignificada: de vício moral suspeito passou a ser concebida como paixão “calma”, capaz de domesticar e contrabalançar paixões políticas destrutivas. O capitalismo, assim, pôde ser apresentado como força civilizatória, produtora de ordem, previsibilidade e moderação. Todavia, se o objetivo é compreender a base material das desigualdades estruturais, bem como o modo pelo qual a economia política clássica e, depois, a ciência econômica formularam teorias que impulsionaram e legitimaram essa nova forma de propriedade, torna-se indispensável analisar as transformações históricas da natureza da propriedade na transição do feudalismo para o capitalismo. Esse é o núcleo interpretativo de Wood (2001), em A origem do capitalismo, a partir das “configurações variáveis das relações sociais de propriedade” de Robert Brenner. Esse é também o caminho que se seguirá aqui, ainda que com propósitos distintos. O ponto central a ser desenvolvido é que a economia política clássica adota a propriedade privada absoluta como categoria fundante, construindo uma teoria em que a sociedade não é explicada pelas formas históricas de organização econômica, mas pelas relações particulares de propriedade entre proprietários e não proprietários, isto é, pelo mercado e seus imperativos.
Em síntese, a economia política clássica contribuiu decisivamente para apagar a gênese social e política da propriedade da terra (e dos meios de produção e subsistência subsequentes), consolidados ao longo do processo de generalização das trocas e do estabelecimento do capitalismo. Ao herdarem tais categorias já juridicamente positivadas, os autores clássicos passaram a utilizá-las como pontos de partida teóricos; e não como problemas históricos a serem explicados. Por isso, “domínio” e “propriedade” permanecem categorias analíticas centrais da teoria econômica, mas apenas quando compreendidas como formas sociais historicamente determinadas. Porém, com o advento da economia neoclássica, foram praticamente eliminadas do horizonte analítico da ciência econômica contemporânea. O resgate dessas categorias permite recolocar o núcleo da questão econômica da terra, da produção e da distribuição, qual seja: antes de expressarem rendimento ou “produtividade”, a terra e suas formas de propriedade, expressam poder sobre pessoas e territórios (poder de excluir, expulsar, comandar, tributar e converter trabalho excedente em renda). Sem esse resgate, torna-se impossível compreender tanto as preocupações da economia política clássica quanto o que a ciência econômica se tornou posteriormente.
É precisamente essa transformação que autores como Polanyi problematizam ao evidenciar o caráter histórico e violento da mercantilização da terra. Em A grande transformação, ele argumenta:
“[…] o trabalho, a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. O postulado de que tudo o que é comprado e vendido tem que ser produzido para venda é enfaticamente irreal no que diz respeito a eles. Em outras palavras, de acordo com a definição empírica de urna mercadoria, eles não são mercadorias. Trabalho é apenas um outro nome para atividade humana que acompanha a própria vida que, por sua vez, não é produzida para venda mas por razões inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto da vida, não pode ser armazenada ou mobilizada. Terra é apenas outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem. Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como regra, ele não é produzido, mas adquire vida através do mecanismo dos bancos e das finanças estatais […]” (Polanyi, 2000, p. 94).
Portanto, terra e trabalho são, para usar a formulação clássica de Polanyi, “mercadorias inteiramente fictícias”, pois: “[…] A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia” (Polanyi, 2000, p. 94). A conversão desses elementos em mercadorias não resultou de um processo espontâneo, mas uma construção tardia, viabilizada pela ação coordenada do Estado em articulação com interesses privados, que dissolveram formas anteriores de vínculos comunitários. Como bem sintetiza Thompson (1998), ‘[…] podemos entender boa parte da história social do século XVIII como uma série de confrontos entre uma economia de mercado inovadora e a economia moral da plebe, baseada no costume”. Desse modo, o colapso dessa “economia moral” não representou apenas uma mutação institucional, mas, também, e sobretudo, a transformação do excedente rural, antes inscrito em obrigações costumeiras e reciprocidades locais, em valor abstrato, monetizado e circulante; processo estreitamente associado ao avanço de novas concepções de propriedade e de direito.
Dessa maneira, a teoria da renda (ou do excedente) na economia política clássica repousa sobre uma base institucional herdada e não problematizada: a propriedade fundiária é tomada como premissa ontológica, como se a terra fosse um fator “natural” dotado de uma produtividade própria. Marx rompe com essa naturalização ao demonstrar que a renda não remunera um dado natural, mas exprime um direito de exclusão historicamente produzido, ou seja, uma forma social específica de monopólio fundada na propriedade privada da terra. Em seus próprios termos, “a propriedade fundiária baseia -se no monopólio de certas pessoas sobre porções definidas do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as outras […]”; “[…] uma representação jurídica da propriedade fundiária totalmente determinada e pertencente à sociedade burguesa […]” (Marx, 2017, p. 676-677). A partir dessa inflexão, torna-se possível compreender a renda fundiária não como preço, mas como relação social de poder e apropriação de excedente. Seu gesto teórico consiste, portanto, em reinscrever o tempo histórico e a violência das expropriações que instituem o monopólio fundiário no interior das categorias econômicas, convertendo o excedente em objeto de crítica, e não apenas em variável explicativa. Ao ignorar essa crítica, grande parte da ciência econômica preservou a naturalização da propriedade fundiária, restringindo a possibilidade de pensar alternativas históricas e institucionais à ordem social vigente.
- Micaelson Morais é professor das disciplinas de Desenvolvimento Econômico e Economia Política na Universidade Regional do Cariri (URCA). Além disso, é autor de livros como “Valor e desenvolvimento” (2023) e “O Novo Testamento à luz do século XXI” (2025). ↩︎
Referências
ANDRADE, Luiz Felipe Neto de. O contrato social em Samuel Pufendorf, Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 21, n. 28, p. 143-163, jan./jun. 2009. Disponível em < https://periodicos.pucpr.br/aurora/article/view/1213/1144>. Acesso em jun, 2025.
BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England (v. II). Lonang Institute, 2005. (electronic edition). Disponível em < https://lonang.com/wp-content/download/Blackstone-CommentariesBk2.pdf>. Acesso jan. 2025.
BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England (v.I). London: John Murray, Albemarle Street, 1876. (electronic edition). Disponível em https://ia801302.us.archive.org/20/items/commentariesonla01blacuoft/commentariesonla01blacuoft.pdf. Acesso em mai. 2025.
BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Tradução de Emanuel Lourenço Godinho. Lisboa: Edições 70, 1982.
GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Tradução Luiz Ernani Fritoli e Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
GROTIUS, Hugo. O direito da guerra e da paz (v.I.). Tradução de Ciro Mioranza. Ijuí: Editora Ijuí, 2004.
HIRSCHMAN, Albert. O. As paixões e os interesses: argumentos políticos a favor do capitalismo antes de seu triunfo. Tradução Luiz Guilherme Chaves e Regina Bhering. Rio de Janeiro: Record, 2002.
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (Clássicos)
MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. Tradução Mario Duayer, Nélio Schneider (colaboração de Alice Helga Werner e Rudiger Hoffman). São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011. (Coleção Mar-Engels)
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro III: o processo global da produção Capitalista. Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017. (Marx-Engels)
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. (Рaidéia).
PADILHA, Rossana. O direito natural e a concepção de sociabilidade em Samuel Pufendorf. In: II Seminário Internacional Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica – Anais. Pelotas: UFPel, 2017. Disponível em https://wp.ufpel.edu.br/imagensdajustica/anais/anais-do-ii-seminario-internacional-imagens-da-justica-curriculo-e-educacao-juridica/. Acesso jun. 2025.
POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época. Tradução de Fanny Wrobel. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
PUFENDORF, Samuel Von. Os Deveres do Homem e do Cidadão (de acordo com as Leis do Direito Natural). Tradução Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Editora Topbooks, 2007.
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

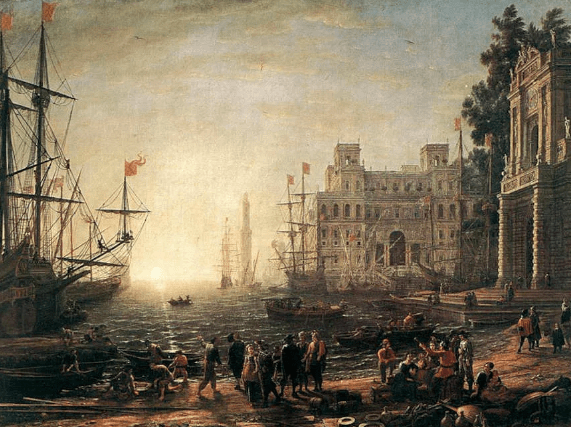


Deixe um comentário